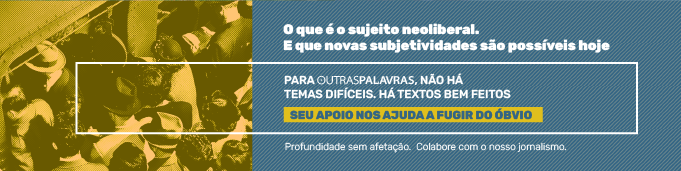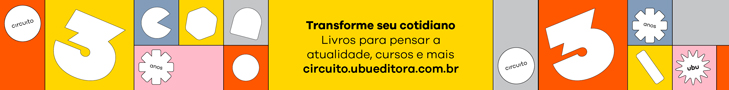Mariana: a nova etapa de luta dos atingidos
Histórias das vítimas que enfrentaram poderosas mineradoras no tribunal. Após oito anos sem reparação, acumularam conhecimentos técnicos e jurídicos. Escracham executivos até no exterior. E questionam ações dúbias de quem diziam ajudá-las
Publicado 10/05/2024 às 19:39 - Atualizado 10/05/2024 às 19:40

Por Johanna Nublat e André Carvalho, na Piauí
“Melhor você não beber. Água lamacenta do Rio Doce. O gosto da negligência!” O alerta, escrito em inglês, estava pregado nas garrafinhas contendo um líquido marrom que cinco brasileiros carregavam no momento em que entraram – sem ser convidados – na reunião geral anual da gigante da mineração BHP, em Adelaide, na Austrália.
“Eu só preciso te entregar uma pequena lembrança que eu trouxe do Brasil”, disparou a bacharel em direito Mônica dos Santos, em português, oferecendo uma das garrafas ao presidente do conselho da BHP, Ken MacKenzie. “Você não vai permitir que eu te entregue?”
Aqueles cinco brasileiros eram vítimas do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Eles foram à Austrália com o objetivo de constranger a liderança da BHP Billiton – empresa anglo-australiana que é uma das controladoras da Samarco, a operadora da barragem. Queriam cobrar a reparação pelo desastre, demanda que produziu um emaranhado de processos judiciais que se arrasta há oito anos no Brasil e também uma ação coletiva, com cerca de 700 mil vítimas, que tramita no Reino Unido. Mesmo sem convite, os brasileiros conseguiram entrar na reunião geral em 1º de novembro passado porque estavam munidos de procurações de acionistas minoritários da BHP, obtidas com organizações australianas pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, criado no Brasil.
Vídeos gravados na ocasião mostram quando o mecânico Mauro Silva, falando ao microfone na área reservada aos acionistas, rebate o discurso da BHP de que a reparação ia a pleno vapor. “Não poderia deixar de olhar nos olhos de cada um que está aqui e dizer que, após esse evento, cada um vai voltar para sua casa. Eu e a Mônica não temos sequer projetos [de casa].” E completou: “Existem várias maneiras de se contar uma mentira na esperança de que ela se torne verdade.”
Todos os números são superlativos no maior desastre socioambiental do país, ocorrido em 5 de novembro de 2015. O rompimento da barragem de Fundão despejou cerca de 40 milhões de m³ de rejeitos com óxido de ferro e sílica no meio ambiente – quase sete vezes o volume da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Os rejeitos chegaram ao Rio Doce e percorreram em suas águas e na dos afluentes cerca de 600 km até alcançar o mar, no Espírito Santo. A contaminação do rio levou o desastre a mais de quarenta municípios, atingindo cerca de 2 milhões de pessoas. Em Bento Rodrigues, subdistrito de Santa Rita Durão, em Mariana – o primeiro a ser atingido pelo tsunami de lama –, vinte pessoas morreram e oito de cada dez edificações foram destruídas. Silva diz que apenas 22 casas ficaram de pé. Uma capela do século XVIII, a de São Bento, foi destruída.
Às vésperas do primeiro aniversário do rompimento, em 2016, o Ministério Público Federal em Minas Gerais denunciou 22 pessoas e quatro empresas: a Samarco, responsável pela barragem, suas controladoras Vale e BHP Billiton, e a VogBR, que atestou a estabilidade de Fundão. Elas foram acusadas de doze crimes ambientais e homicídio qualificado com dolo eventual (em que se assume o risco de cometer o crime). Até hoje nenhum réu foi julgado e dois crimes ambientais já prescreveram. As quatro empresas ainda respondem pela ação original – e sete pessoas físicas também, porém nenhuma mais por homicídio.
A dimensão sem precedentes do desastre, a morosidade da Justiça brasileira, a relutância das empresas, as intrigas políticas e a pressão econômica acabaram levando vários moradores atingidos pelo rompimento a arregaçarem as mangas e lutarem por seus direitos. Alguns se tornaram ativistas pelos direitos coletivos e o uso da terra.
Quinze horas depois de chegar da Austrália, Mauro Silva já estava nas ruínas da Capela de São Bento para a celebração da missa em memória aos oito anos do rompimento do Fundão, em 5 de novembro passado, como ele faz todos os anos. Naquele dia, o calor era ainda mais intenso debaixo do toldo de lona erguido sobre um tablado de madeirite e ferro que hoje serve para celebrações eventuais e de cobertura para as campas originais da igreja que se preservaram. Montes de rejeito – um barro denso de cor marrom – ainda são visíveis no local.
Silva conta à piauí que, em Adelaide, chamou a cúpula da BHP de “canalha”, cara a cara, e criticou o modo como conduz a reparação. Ele diz que o reassentamento – ainda não finalizado – das famílias de Bento Rodrigues em uma nova área a 8 km do distrito original é um “faz de conta”, um agrupamento artificial que não leva em consideração o estilo de vida da comunidade antes do rompimento. No meio da conversa, o mecânico saca o celular para mostrar uma foto antiga, tirada de onde ficava a Capela de São Bento, mostrando a frente de sua casa. É difícil imaginar que ali, onde hoje reinam montes de dejetos, ruínas e mato, já existiu uma comunidade.
Segundo um diagnóstico produzido pela Samarco em 2013, Bento Rodrigues tinha naquele ano uma população de 418 pessoas e 198 moradias. Os pais de Silva viviam no distrito, na mesma casa onde Silva nasceu há 54 anos, pelas mãos de uma parteira. Em 2011, o mecânico comprou a sua casa em Bento Rodrigues, para passar os fins de semana e feriados com a família, em escapadas frequentes de Mariana, onde ele mora e trabalha. As duas residências foram arrasadas pela lama.
Bem antes do rompimento, a mineração já havia deixado marcas na história de Silva. Seu pai trabalhou por décadas para as mineradoras e um amigo de infância foi soterrado em uma avalanche de rejeitos. Quando fazia um curso técnico de mecânica, Silva foi estagiário na Samitri (comprada pela Vale, em 2000), mas logo deixou a empresa. “Eu já tinha asco da mineração”, diz. Foi trabalhar como ajudante de uma oficina de carros em Mariana, negócio do qual se tornou proprietário.
Em 2015, ele estava na oficina quando recebeu a ligação de um antigo funcionário que trabalhava para uma mineradora avisando do rompimento de Fundão, antes mesmo que a lama avançasse sobre Bento Rodrigues – que fica a 5 km da barragem. Felizmente, a mãe e o pai de Silva tinham saído do distrito meia hora antes do rompimento. Silva então ligou para amigos que viviam no local, mas ninguém atendeu ou as ligações não completavam. Ele resolveu ir de carro até lá. Quando chegou, a lama já havia invadido Bento Rodrigues. “Um quilômetro antes de chegar, quando fiz a curva na estrada, num ponto que daria para avistar as casas, só vi a marca da lama na montanha, por onde ela tinha passado. Não tinha mais nada.”
Ele conta que defendeu a Samarco nos dias seguintes ao rompimento. Foi um dos primeiros a receber o cartão emergencial – repasses mensais para as famílias afetadas, de pouco mais de um salário mínimo e meio – e testemunhou funcionários da empresa chorando numa visita. Achava que a Samarco estava empenhada em se redimir do erro cometido. Mas começou a desconfiar que aquilo tudo não passava de uma estratégia para dividir a comunidade de Bento Rodrigues. E então aconteceu seu primeiro desentendimento com as mineradoras. Ele teve negado um pedido de auxílio para aluguel, dado aos que perderam suas moradias, com o argumento de que a residência dele em Bento Rodrigues era uma casa de campo. Silva só conseguiu o direito depois de uma audiência judicial, em 2016.
Outras famílias em situação semelhante não conseguiram. Foi quando as brigas que eram pessoais começaram a se tornar uma só, coletiva. “Eu via pessoas que tinham direito, mas não tinham argumentos, quando a juíza falava: ‘Conta a sua história.’ Eu mesmo tinha entrado no fórum só duas vezes: para tirar o título de eleitor e para entregar o carro consertado de um juiz.” Pouco a pouco, ele foi aprendendo sobre as leis brasileiras. “Estudei, comecei a pesquisar na internet a diferença entre moradia, domicílio e residência. Mas o artigo 70 ou o 71 do Código Civil determina que, independente de onde a pessoa resida, se ela possui várias casas onde mora alternadamente, qualquer uma pode ser caracterizada como domicílio.” É exatamente o que diz o artigo 71: “Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.”
Passados oito anos, só agora vai sair do papel a casa de Silva no reassentamento de Bento Rodrigues. Mas ele diz que ainda devem a ele uma indenização, não acordada. “Somos tingidos e atingidos. A lama passou sobre nossas cabeças, sobre os nossos corpos e propriedades. Não estamos tendo a devida reparação”, afirma.
Para Guilherme Meneghin, promotor em Mariana que atua desde o início do caso, “destruir a casa das pessoas é quase destruir a vida delas. E isso gerou uma vontade nos atingidos de querer resolver a situação”. Mônica dos Santos, que ofereceu ao presidente do conselho da BHP uma garrafa com líquido marrom, depois do rompimento deixou seu trabalho como auxiliar de uma dentista e se formou em direito. Hoje é uma das capitãs do Loucos por Bento, movimento pela retomada da área arrasada pela lama pelos antigos moradores.
Ainda em 2016, quando nem era permitido retornar ao local, grupos de pessoas começaram a dormir nas casas que não foram arruinadas no distrito, a celebrar momentos importantes, passar férias e Natal, se reagrupando. Agora, os Loucos por Bento fazem isso todos os fins de semana, pernoitando na casa de uma tia de Santos que resistiu à lama. “É questão de sobrevivência. Se a gente não estivesse indo para lá, não estaria mais aqui”, diz ela, em Mariana, onde vive. “Bento Rodrigues é nosso remédio, antidepressivo, nossa válvula de escape. É lá que a gente pega a força para continuar com a semana e a disputa contra a Renova, a Vale e a BHP.”
No mesmo dia 5 de novembro passado, em Águas Claras, distrito de Mariana a cerca de 35 km de carro de Bento Rodrigues, a dona de casa Maria do Carmo D’Angelo, de 50 anos, e seu marido, o produtor de leite Marino D’Angelo, de 55 anos, se preparavam para receber amigos e apoiadores. Eles iriam a uma outra missa dos oito anos do rompimento da barragem, dessa vez na Igreja Matriz de Santo Antônio, no distrito de Paracatu de Baixo.
A igreja ficou de pé, mas a lama deixou uma marca marrom que sobe até o alto da fachada, numa linha horizontal perfeita, como se pintada a mão. Dentro, uma idêntica marca marrom também foi preservada pela comunidade como memória do que aconteceu ali. O rompimento causou mais danos em Paracatu de Baixo que no seu subdistrito-irmão, Paracatu de Cima. No primeiro, que fica a 26 km da barragem e concentrava os equipamentos públicos dos dois distritos, a lama destruiu casas, comércios, a igreja e a escola (ainda imersa nos rejeitos). No segundo, a onda de rejeitos fechou estradas, destruiu quintais e esvaziou a comunidade. De acordo com a regional mineira da Cáritas – organização humanitária da Igreja Católica vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) –, que presta assessoria técnica independente para os atingidos desde 2016, os poucos que ainda continuam em Paracatu de Cima “vivem sem energia, água tratada, com o rio e a vegetação poluídos”.
Antes do rompimento da barragem, Marino era presidente da Associação dos Produtores de Leite de Águas Claras e Região, que reunia 120 famílias e produzia 10 mil litros de leite por dia. Ele tinha entre 60 e 70 vacas a ponto de produção e fazia melhoramento genético. Das suas quatro pequenas propriedades em Paracatu de Baixo e Paracatu de Cima, uma foi totalmente arrasada pelos rejeitos, outra foi parcialmente destruída e duas ficaram isoladas. A casa da família, em Paracatu de Cima, não foi invadida pela lama, que, porém, destruiu tudo em volta. O bezerro que a filha mais velha, Alice, criava na mamadeira foi carregado pela onda de rejeitos.
Para uma família que chegava a faturar mais de 20 mil reais com leite por mês, o rompimento da barragem significou uma devastação financeira. “Depois que passou a lama, começaram outros rompimentos. Dentro do rompimento da barragem são vários rompimentos ocultos. A gente perdeu os laços, a relação da comunidade”, diz Marino. “Desde solteiro, no dia 25 de dezembro, eu dava leite para quem quisesse de Paracatu de Baixo. No Natal do rompimento, não veio ninguém, tinha ido todo mundo embora para a cidade. Chorei para danar. Nunca mais veio alguém buscar leite.”
Já no mês seguinte ao rompimento, ele começou a participar da comissão dos atingidos de Paracatu de Baixo. Também se fez atuante nas reuniões com a Samarco e autoridades locais, junto com sua mulher. Muito rápido surgiram atritos na comunidade, por vezes fomentados por ações das mineradoras. O casal recorda que um deles foi a tentativa de excluir da reparação completa quem vivia nos arredores da área diretamente atingida. Ocorreu também uma inédita cisão entre os moradores de Paracatu de Baixo e os de Paracatu de Cima. “Escutei da boca de gente que eu considerava minha que eu não fazia parte. Voltei chorando. Como eu não sou de Paracatu? Meu avô fez a igreja de Paracatu de Baixo”, conta Maria. “A gente era festeiro em Paracatu de Baixo, temos uma filha enterrada lá”, completa Marino.
Antes do rompimento da barragem, Maria era uma moradora interessada em obter melhorias para a comunidade, tendo participado de iniciativas para instalar internet na escola, melhorar a rota do ônibus local e ajudar vizinhos a se aposentarem. Depois do desastre, quando deparou com as dificuldades colocadas pelas mineradoras, ela também resolveu atuar: colheu assinaturas de Paracatu de Cima e criou uma comissão própria. Tinha dois dias para apresentar o documento assinado por pelo menos 28 famílias em uma reunião. A filha Alice, com 17 anos à época, pilotou a moto pelas estradinhas da comunidade rural para que Maria pudesse bater de porta em porta para colher as assinaturas. Conseguiram ir a 49 das 52 casas. Todos assinaram.
No dia em que as comissões já efetivadas se reuniram em Mariana para debater a inclusão de novos membros com o Ministério Público, Maria chegou com o documento assinado. No microfone, anunciou que queria criar uma nova comissão. Ouviu uma chuva de críticas dos vizinhos de Paracatu de Baixo. “Se eu não faço parte da sua comunidade, você não tem que se meter na minha. Não está dividido?” Deu certo. Naquele dia, foi criada a comissão de Paracatu de Cima.
Pegar no microfone para protestar também foi um ato de coragem para Simone Silva, de 46 anos, do município de Barra Longa. No primeiro aniversário do rompimento de Fundão, ela precisou se preparar para ler uma carta em Mariana, a pouco mais de uma hora de carro de sua cidade. “Tremi como vara verde, tomei chá de erva cidreira”, relembra. Não é mais assim. “Hoje brigo até para pegar no microfone.”
Em novembro passado, Simone demonstrava muita naturalidade ao comentar, com microfone em punho, a importância do Dia da Consciência Negra durante a celebração pela escola estadual onde ela trabalhou. Barra Longa fica a cerca de 45 km da barragem, e a lama invadiu o Centro da cidade e algumas edificações. Para Simone e outras lideranças, o desastre causado na cidade evidencia outro aspecto do rompimento, de um caso de racismo ambiental, já que Barra Longa tem uma população de pretos e pardos acima da média nacional, ainda maior no distrito de Gesteira.
Simone nasceu e cresceu nesse povoado. Foi lá que sua avó enterrou o umbigo dos netos, sob uma roseira branca. Em uma parte de Gesteira, que resistiu a uma enchente em 1979, não sobrou uma casa de pé. À época do rompimento, Simone era auxiliar de serviços gerais da escola de Barra Longa, trabalhando na limpeza e com a merenda (depois se tornou professora de artes). Quando alunos de Gesteira ficaram sem transporte para a escola por causa do estrago ocorrido na estrada, ela se revoltou. Foi a primeira denúncia que fez. Em seguida, se empenhou em outras duas causas: a moradia e a saúde, que a afetavam diretamente depois dos rejeitos. Simone conta que casas trincaram – incluindo a dela – devido ao trânsito incessante de caminhões de limpeza da lama e que parte do rejeito foi transportada para ser usada para calçamento em áreas menos nobres da cidade.
No dia seguinte ao rompimento, sua filha Sofya, então com 9 meses, começou a sofrer de coceiras, febre e diarreia, sintomas que, segundo ela, indicavam intoxicação pelos rejeitos. Ela diz que ainda não conseguiu que o tratamento da filha seja efetivamente pago pelas mineradoras e que a clínica que atendia a menina, em Juiz de Fora, a cerca de 250 km de sua casa, vai fechar. Está sem opção de tratamento.
Não foi apenas Simone que enfrentou problemas assim. Ela descobriu que outras famílias estavam vivendo dramas similares. “Não era só minha filha. Existiam muitas Sofyas e Simones.” Ela resolveu enfrentar o pânico de falar em público. “O microfone se tornou uma arma de luta, esse empoderamento vem do sofrimento e de não ser ouvida.”
Sua militância acabou levando-a a ser nomeada secretária municipal de desenvolvimento econômico de Barra Longa, cidade de 5.666 habitantes, segundo o Censo. No fim de fevereiro, ela se sentou à mesa como membro do poder público para discutir com representantes da Fundação Renova, que cuida da reparação pelo desastre da barragem. “Eu estava acostumada a bater de frente. Agora tenho que trabalhar de forma técnica, mas não abrindo mão dos direitos.” Ao ser perguntada se vê chances de ter sucesso na disputa com duas das maiores mineradoras do mundo, Simone, evangélica da Comunidade Profética Vidas Novas, recorre à Bíblia: “Quando Davi desceu da montanha, era apenas Davi. É possível. Vamos com fé, esperança e resiliência. É preciso ter coletividade no processo.”
Em 2016, as mineradoras envolvidas no desastre – BHP, Vale e a Samarco, controlada pelas duas primeiras – assinaram um termo de transação e de ajustamento de conduta que estabeleceu as bases da reparação às vítimas e criou a Fundação Renova, entidade que ficou responsável por executar essa reparação. A fundação, que é mantida pelas três empresas, afirma que, até 29 de fevereiro deste ano, a execução de 42 programas destinou 36,51 bilhões de reais a ações de reparação (para mitigar os danos causados, ca vez no final do ano passado, a mesa quase fechou um acordo, mas as negociações estagnaram outra vez. Uma outra proposta das mineradoras foi rejeitada neste mês pela União e o Espírito Santo. A pactuação original, de 2016, não estabelecia um valor específico a ser pago pela Renova, apenas o que precisaria ser reparadomo o reassentamento de casas) e compensação (do que não for mitigável, como a restauração florestal). Desse total, 16,82 bilhões de reais foram para indenizações e auxílios emergenciais de mais de 440 mil pessoas. Há diversas contestações desses gastos e também uma determinação da Justiça que proíbe a Renova de fazer publicidade com os recursos da reparação.
Apesar da assinatura do termo de 2016, o rompimento da barragem continuou sendo judicializado. Em 2021, como a reparação estivesse atravancada e frente a mais de 85 mil processos variados tramitando na Justiça, englobando vítimas e as mineradoras, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entrou na disputa para repactuar o primeiro acordo. Foi dado um prazo inicial de 120 dias para que isso ocorresse, mas a discussão não foi encerrada até hoje.
A repactuação, conduzida inicialmente pelo CNJ e depois pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, inclui o governo federal, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, membros do Ministério Público e da Defensoria dos três entes federativos e as mineradoras. Essa composição da mesa negociadora é alvo de críticas da parte dos atingidos por não dar espaço direto à participação das vítimas (que estão representadas sobretudo pelas defensorias) e por ser considerada pouco transparente.
Nos estertores do governo Jair Bolsonaro e outro. A ideia nas negociações mais recentes passou a ser o estabelecimento de um valor a ser pago pelas mineradoras – que já chegou à casa dos 100 bilhões de reais – e redefinir quem seria responsável por executar o quê.
O jurista Luiz Fernando Bandeira de Mello, conselheiro do CNJ e conciliador da mesa, diz que o desenho hoje de uma repactuação provavelmente relegaria a Renova a tarefas menores ou à dissolução, porque o modelo não teve a agilidade necessária. “Todos avaliam que o melhor é a extinção da Renova. Nem o atingido, nem as empresas, nem o poder público estão satisfeitos.” Na BHP alguns avaliam que a Renova teve um papel crucial em ações de impacto, mas de menor visibilidade, como a recuperação do Rio Doce e mais de 5 mil nascentes, e dizem que uma revisão do acordo original já estava prevista desde o início. Enquanto isso, as tratativas continuam paradas, na expectativa, inclusive, do cai-não-cai do presidente da Vale.
O impasse do processo na Justiça brasileira fez com que um advogado britânico levasse o caso, na forma de uma ação coletiva, em 2018, para uma corte no exterior, já que a BHP é uma empresa anglo-australiana. Hoje o escritório de advocacia Pogust Goodhead, com sede em Londres, representa cerca de 700 mil atingidos – incluindo quem também está nos acordos no Brasil – e 46 municípios ao longo do Rio Doce, além de mais de 2,5 mil empresas e instituições afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão. A nova cobrança em indenizações alcança o valor de 230 bilhões de reais. O julgamento da ação contra a BHP, tido como histórico, está previsto para outubro deste ano, mas o escritório espera chegar a um acordo com as mineradoras antes disso (a BHP acabou puxando a Vale para também responder na ação inglesa). No mês de março deste ano, o mesmo escritório entrou com outra ação, desta vez representando outros 77 mil atingidos e sete municípios contra a Vale e a Samarco, desta vez na Holanda, país onde as empresas têm subsidiárias.
Para ajudar nos caminhos do direito administrativo brasileiro (a Justiça inglesa vai julgar segundo as regras do processo inglês, mas aplicando o direito daqui), o escritório contratou José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça, ex-deputado federal e ex-advogado da presidente Dilma Rousseff. Durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados que debateu a ação inglesa, em setembro do ano passado, Cardozo criticou a falta da participação direta dos atingidos nas discussões da repactuação. “Tenho defendido que era melhor um acordo que englobasse tudo, aquilo que se pleiteia no Brasil e aquilo se pleiteia na Inglaterra. Porque são atores um pouco diferentes. Na Inglaterra estão 700 mil pessoas, que não estão no acordo aqui [no Brasil]. Quem não quer isso? Obviamente quem vai pagar a conta”, disse o ex-ministro. Bandeira de Mello, o conselheiro do CNJ, afirma que a repactuação que está sendo negociada no Brasil “envolve indenizações a serem pagas a particulares que estão (ou não) representados na ação da Inglaterra. São grupos diferentes e valores diferentes, que se comunicam em parte”.
Na audiência na Câmara, em 20 de setembro de 2023, Cardozo explicou que um acordo indenizatório tem dois objetivos. O primeiro é recompor financeiramente o que nem sempre pode ser reparado com dinheiro. “Quem não pode mais pescar tem que poder, pelo menos, comprar o peixe para poder viver”, exemplificou. O segundo, continuou, é “a dimensão simbólica, punitiva, que diga para toda a história que não se repita mais esse tipo de coisa.”
Em conversa por telefone com a piauí, Thomas Goodhead, presidente do escritório inglês Pogust Goodhead, diz que a ação busca uma reparação de fato, em vez da remediação proposta no Brasil. Ele compara o modo de agir da BHP no Brasil com o que a empresa adotou em outro desastre ambiental, nos anos 1980, em Papua Nova Guiné. “É uma estratégia que mineradoras, em especial a BHP, já usaram no passado. Criam uma fundação, como a Renova, e dizem: ‘Estamos resolvendo o problema.’ Mas não financiam direito, não é bem gerenciada. Quando alguém fala ‘Você é responsável’, eles respondem: ‘A responsável é a fundação.’” É como se a Renova funcionasse como um para-raios das críticas dirigidas às mineradoras. A Renova não quis comentar nem sobre a repactuação nem sobre a ação movida no tribunal londrino. Também alegou questões de proteção de dados para não comentar casos específicos.
Goodhead é cauteloso ao criticar a atuação de juízes ou instituições brasileiros, mas se refere a um gargalo já bem conhecido por aqui. “Às vezes, o problema é o sistema. Nas cortes brasileiras, a possibilidade de apelar de maneira quase infinita significa que, se você é uma empresa rica como a BHP ou a Vale, pode atrasar processos em trinta ou quarenta anos.”
Enfrentando esse sistema, estão os atingidos pelo rompimento, pessoas que, nas palavras de Goodhead, “viram o pior da humanidade, tiveram suas casas destruídas e perderam familiares”, mas fazem questão de contar sua história. “Algo que descobri é que pessoas comuns se transformam em super-heróis. Tornam-se pessoas extraordinárias.”
O peso de ter que virar quase um herói não passou despercebido pelas vítimas do rompimento da barragem. “A luta é muito difícil, porque as pessoas que te conhecem passam a duvidar de você, e pessoas em quem você acreditava se corrompem no processo. E o que é pior: a gente tem que lutar contra as instituições, que acabam representando o poder econômico”, diz Marino D’Angelo, o produtor de leite de Paracatu de Cima e de Baixo. “Antes do rompimento eu era Marino, hoje sou atingido. Sou outro ser. A lama levou a identidade de tudo o que a gente fez antes do rompimento. A gente tem que se renovar no meio do barro.”
Nesse processo de renovação e luta, a mulher de Marino, Maria, que estudou até a 8º série do ensino fundamental, se inscreveu em 2017 no Curso de Promotoras Populares de Defesa Comunitária, comandado pela promotora de Justiça Nívia Mônica da Silva, de Belo Horizonte.
Exclusivo para mulheres, o curso abordou, em encontros presenciais na capital mineira, direitos relacionados ao mercado de trabalho, questões de violência, de acesso a equipamentos públicos e diversidade, colocando as alunas, algumas delas analfabetas, em contato com profissionais como uma juíza federal e uma delegada de polícia. “O sistema de Justiça tem esse hermetismo, que é parte do funcionamento dele, mas que desencoraja as pessoas a lutarem pelos seus direitos”, diz a promotora. Algumas vagas do curso foram abertas para alunas do interior do estado de Minas Gerais e o deslocamento delas foi custeado por uma parceria firmada com o Ministério Público. As professoras do curso eram todas voluntárias. “Você pode ter sido vítima de uma violação, mas esse não é um lugar em si: sempre acreditei na vítima como um sujeito agente.”
Uma das conquistas de Maria ocorreu, justamente, diante de uma juíza. Ela conta que estava em uma audiência que debatia o direito ao arrependimento para onze famílias da zona rural ao redor de Paracatu de Baixo. O direito ao arrependimento cria a possibilidade de a família que teve a casa reconstruída desistir do acordo com as mineradoras e escolher outra forma de reparação, num prazo determinado. Havia receio sobre quanto a terra ainda produziria depois de ter sido arrasada pelos rejeitos. “Todo mundo, inclusive minha mãe, tinha aquela ansiedade de voltar para sua casa. Só que a casa não era mais a mesma e o terreno onde eles antes produziam também não era mais o mesmo. O terreno já não produzia, por causa dos dejetos. Mas a empresa dizia que dava para produzir normalmente”, diz Maria.
Na audiência, a juíza perguntou qual seria o argumento técnico para estabelecer um prazo mais longo para o arrependimento das famílias reassentadas no mesmo local. “Eu falei: ‘Meritíssima, uma planta muito comum cultivada na zona rural é a mandioca. Do plantio até a colheita, demora um ano e meio. Então, quando a pessoa entrar na casa dela e plantar uma muda de mandioca no terreno, ela só vai saber se consegue voltar a produzir um ano e meio depois. É quando ela vai ver que a terra não presta.’” Maria conta que a juíza acolheu a ideia e fechou o prazo de dezoito meses para as pessoas se arrependerem do acordo feito com as mineradoras para ter uma casa construída no mesmo local de antes. “Essa é uma luta muito pesada”, diz Maria.
Johanna Nublat é jornalista, trabalhou nas redações da Folha de S.Paulo e da Veja e tem um master em políticas públicas e sociais
André Luís Carvalho é jornalista, professor do Departamento de Jornalismo da UFOP, fotógrafo e pesquisador dos desastres minerários de Minas Gerais