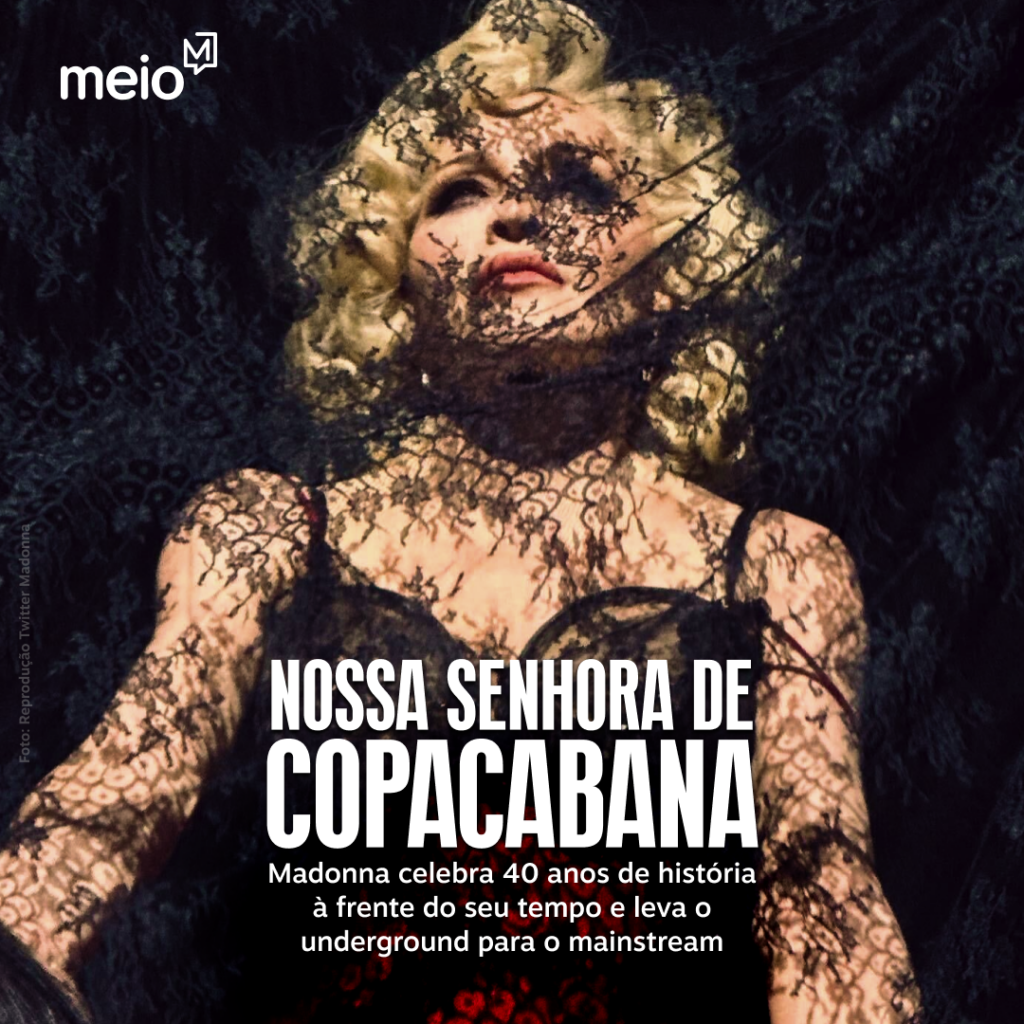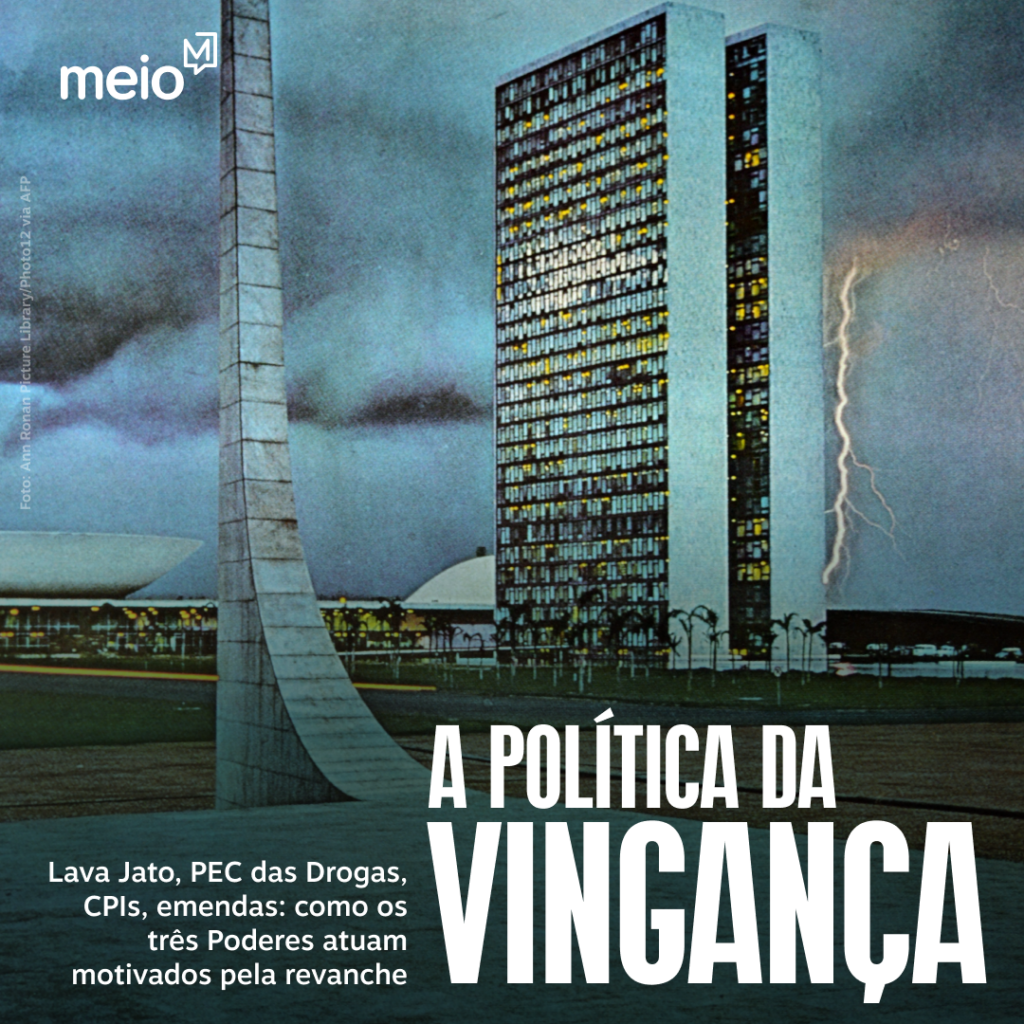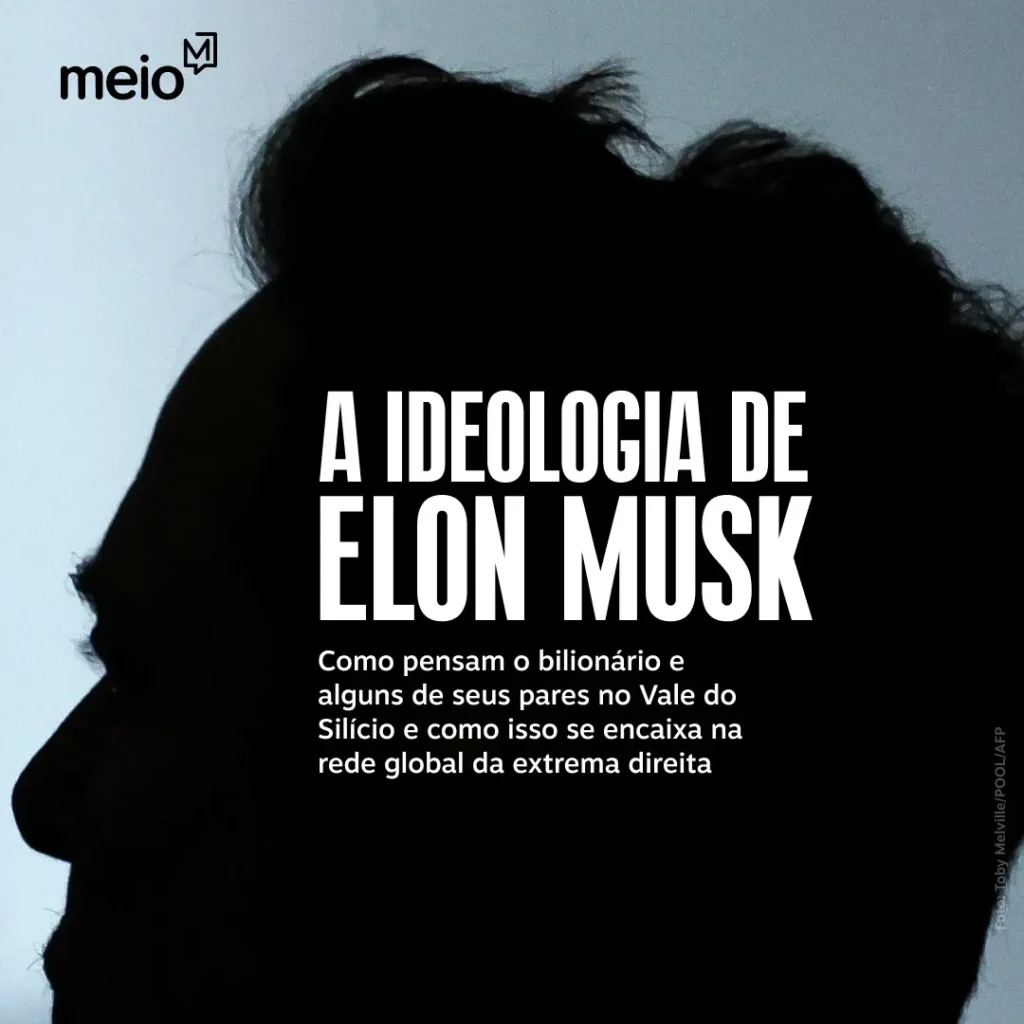O liberalismo ausente
Nas primeiras semanas de 2009, o cientista político inglês Timothy Garton Ash publicou no New York Times um artigo sobre o discurso de posse de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos. “Faltava apenas”, ele escreveu, “o nome adequado para a filosofia política que ele descrevia: liberalismo.” A palavra liberalismo, sob pesado ataque do governo Ronald Reagan duas décadas antes, passou a representar para boa parte dos americanos uma ideia de governo inchado e incapaz de operar. Na Europa continental e América Latina, segue Ash, a palavra tomou o caminho contrário, representando a ideia de um mercado desregulado em que o poder do dinheiro se impõe a um Estado fraco. Não basta, sequer, chamar a coisa só de liberal. É preciso chama-la neoliberal. Desde final dos anos 1970, já são quarenta anos de um trabalho de redefinição forçada do que é liberalismo, uma filosofia política de três séculos e meio pela qual transitaram algumas dezenas de filósofos e economistas de primeiro time. O sentido do termo se perdeu de tal forma, no debate público, que mesmo muitos dos que se dizem liberais não parecem entender que conjunto de ideias representam.
E nunca precisamos tanto do pensamento liberal na conversa sobre o futuro. A crise democrática, a ascensão da extrema direita e a inabilidade para encarar problemas como as mudanças climáticas estão diretamente ligadas ao enfraquecimento do liberalismo no debate público.
O filósofo americano John Rawls fazia uma distinção entre dois tipos de liberalismo, o político e o filosófico. Não era uma distinção no conjunto de valores que representam mas na função que ocupam.
O liberalismo político é aquele que aparece na expressão Democracia Liberal. O liberalismo político, aquele que dá sustento intelectual à ideia de democracia, é plural e tolerante. Outro filósofo, o austríaco Karl Popper, falava a mesma coisa só umas décadas antes. Precisa ser plural porque, se há democracia, é necessário que todas as correntes de opinião que concordem com os princípios de pluralidade e tolerância possam ter espaço na disputa de ideias na sociedade. A tolerância, ora, é a capacidade de entender e aceitar que há outras correntes de opinião e que isso é normal.
O liberalismo filosófico, portanto, se coloca como uma destas correntes de opinião. Não se impõe, nem poderia.
Uma das características da atual crise democrática é, justamente, a intolerância com a pluralidade. Ela é evidentemente mais acentuada na extrema direita, que mira num sistema que o ditador húngaro Viktor Órban bem classificou de “democracia iliberal” — tem eleição mas não é nem plural, nem tolerante. A existência de uma extrema direita faz também de muitos, na esquerda, rápidos no gatilho em buscar calar toda e qualquer ideia que venha da direita.
A ausência de mais liberais no debate público se mostra no encolhimento do Centro e faz com que neste momento sejam poucas as vozes pedindo por tolerância com a pluralidade de ideias.
Mas não é só isso. A caricatura que a direita americana produziu do liberalismo o identifica com um governo que se intromete em excesso. A caricatura que as esquerdas europeia e latino-americana construíram aponta para um Estado de todo ausente. Não é uma coisa, nem outra, e desde o início já não era.
Quando o escocês Adam Smith, ainda no século 18, falava da “mão invisível do mercado”, ele jamais sugeriu que a única força a movimentar esta mão fossem os interesses econômicos de cada um. Smith era claro ao indicar que havia outras duas forças — os valores morais de cada um e a natural empatia que seres humanos temos uns pelos outros. Smith defendia que cabia ao Estado intervir quando a mão invisível levasse a um resultado que não interessasse à sociedade. No início do século 19, seu conterrâneo James Mill e o inglês Jeremy Bentham inauguraram uma das mais influentes escolas liberais: o Utilitarismo. Seguiam um princípio o mais básico. Uma iniciativa é mais positiva quanto mais gente for beneficiada por ela. O filho de James, John Stuart Mill, trouxe para o conceito o princípio do dano. A nossa liberdade termina quando causa dano aos outros.
Foi seguindo esta linha de raciocínio que vai de Smith a Bentham e aos dois Mill, pai e filho, que governos liberais britânicos por exemplo instituíram a obrigatoriedade da vacinação no país ainda no século 19. Afinal, é útil para um número maior de pessoas — a sociedade — que a cobertura vacinal seja ampla. Seguindo estes princípios, nos anos seguintes, o ensino público gratuito e universal foi oferecido a todas as crianças inglesas. Limites para número de horas trabalhadas foi criado. Proibição do trabalho infantil. Se não é possível estabelecer igualdade econômica numa sociedade livre, porque desigualdades existirão, dignidade dá para garantir, igualdade de oportunidades, não importa em que CEP se nasça, também.
É a distinção que o filósofo russo Isaiah Berlin fazia da liberdade negativa e liberdade positiva. Uma, a liberdade de poder fazer sem que ninguém imponha obstáculos artificiais. A outra, a liberdade de poder porque obstáculos que foram criados pela dinâmica social foram retirados ou amenizados por políticas públicas.
Num país liberal, o Estado não é um mamute que se impõe, limitando as possibilidades dos cidadãos. Mas ele tem força para corrigir atento quando a desigualdade se torna aguda, para garantir que toda criança possa vir a ser seu melhor. Que nenhuma pessoa ou empresa cause dano àquilo que é público.
Aquilo que é público — os commons, como chamam os ingleses. O que nos é comum. A praça, as matas, os rios, a rua, as praias. O bem-estar. Na cabeça liberal, cada cidadão tem o dever de zelar pelo que é de todos nós, pois todos dependemos daquilo. E o Estado tem a função de garantir que ninguém cause dano a eles. Num país liberal, realmente liberal, liberal tal qual os filósofos liberais pensaram o que chamamos liberalismo ao longo dos séculos, o combate às mudanças climáticas seria prioridade zero.
Num momento de tristeza, certa vez, o economista-chefe do Partido Liberal britânico se pôs perante seus pares de toda a vida para reconhecer que a legenda estava perdendo espaço político no país. É da natureza de democracias com voto distrital para deputados que elas se tornem bipartidárias. Até o início do século 20, a briga sempre havia sido entre Liberais e Conservadores. Com o fortalecimento dos movimentos operários graças a reformas liberais, o Partido Trabalhista estava crescendo e viria a ocupar a vaga progressista no bipartidarismo britânico. “Nossa vocação parece que será oferecer ministros aos governos conservadores e ideias para os governos trabalhistas”, ele afirmou. Era John Maynard Keynes, na virada dos anos 1920 para os 30. Sim, liberal no talo. Presidente do Clube Liberal no tempo do movimento estudantil, morreu economista-chefe do Partido Liberal, um sujeito particularmente cioso de sua liberdade pessoal. A liberdade sexual, a liberdade artística, a liberdade no debate de ideias, a liberdade de mercado, liberdades todas nas quais se jogou com toda a energia e bem usufruiu por toda uma vida dedicada, também, ao bem-comum. Keynes fazia discursos falando não de liberalismo mas “do grande liberalismo”, expressão dele, em sua luta árdua, no seu tempo de vida, contra as ideias representadas por fascismo e comunismo.
Também o não reconhecimento de Keynes como liberal faz parte da captura da palavra. Como Milton Friedman sugeriu quando um jornalista o tentou cerca-lo para falar mal de Keynes, “eu sou keynesiano.”
O liberalismo, por sua natureza, ao longo da história funciona na base da inspiração e da espiração. Às vezes se contrai, noutras se amplia. O Estado liberal fica ausente quando desnecessário, entra quando se torna preciso. Caso inche demais, hora de retrair — caso se torne tíbio, é preciso ampliar. O Estado liberal não deve ser grande ou pequeno, deve ser atento e pronto para agir. Não é um equilíbrio fácil, pois numa sociedade complexa nada é simples. Mexe num ponto, desarruma o outro. Portanto é um ser forte numa área e ausente noutra simultaneamente.
Vivemos um mundo de transformação tecnológica que está rapidamente eliminando empregos com bons salários para quem não tem ensino superior, como explica o economista feito jornalista Martin Wolf. Num país como o Brasil, o perigo de acentuar a desigualdade é altíssimo. Esses empregos no passado existiram — eram os empregos daquele operariado que ergueu a socialdemocracia europeia durante o século 20. No mundo digital, não tem mais.
Enquanto isso, as principais empresas digitais se tornaram as mais espetaculares companhias jamais criadas na história do capitalismo. Geram riqueza real, criam valor, facilitam a vida, ampliam as possibilidades de comunicação. Governos liberais regulam seguindo a preocupação com monopólios, ora, de Adam Smith, orientados pelos preceitos dos Utilitaristas, atentos ao princípio do dano do Mill filho. Assim como governos liberais cuidam do que é comum a todos, aquilo que é público. Como, ora, o Meio Ambiente. Assim, como, naturalmente, se atentam para construir uma rede de bem-estar social que permita dirimir as desigualdades que são impostas pela dinâmica do mercado, da sociedade. Para garantir igualdade de oportunidades, dignidade para todos.
Ali na frente, as coisas se rearranjam de novo. O liberalismo está ausente justamente quando ele é mais necessário.